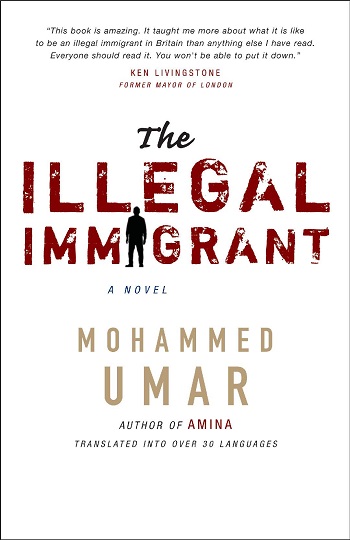QUO VADIS GUINÉ-BISSAU ?
Novos rumos no país de Amílcar Cabral
Carlos Cardoso
A Guiné-Bissau, um país de cerca de um milhão e meio de habitantes e do tamanho da Suíça, contava, nos anos setenta, dentre os países com maior índice per capita de ajuda ao desenvolvimento. O enorme prestígio de que gozava no seio da comunidade internacional fundamentava-se num certo número de opções assumidas pelas autoridades políticas de então, que podiam servir de exemplo a vários títulos. Apesar de ter optado por uma economia planificada, e mantendo-se fiel à política de não-alinhamento e ao pensamento de Amílcar Cabral, o país nunca chegou a declarar o marxismo-leninismo como ideologia de Estado, como fizeram os seus “companheiros de luta” de Angola e Moçambique. Até a primeira metade dos anos 80, e apesar das deficiências registadas aqui e acolá, o país deu provas de utilização criteriosa das ajudas internacionais; Tinham sido alcançados progressos significativos nos domínios sociais, nomeadamente no que respeita à taxa de escolarização e de alfabetização, à esperança de vida à nascença e ao índice de mortalidade materno infantil.
Volvidos mais de trinta anos após estes gloriosos anos, o país parece ter retrocedido a todos os níveis. Praticamente todos os sectores da vida nacional encontram-se em crise e sem soluções à vista, apesar dos esforços e da atenção que a comunidade internacional lhe tem dispensado. A Guiné-Bissau de hoje parece não possuir rumo certo, assemelhando-se a um país à beira da desgovernação, onde as instituições do Estado, nomeadamente as ligadas à administração da justiça, experimentam sérias dificuldades de funcionamento e onde os órgãos da soberania do Estado mal conseguem coordenar as suas acções. Mais preocupante do que isso, os últimos desenvolvimentos apontam para uma crise social e política de consequências imprevisíveis. Dentre estes desenvolvimentos negativos, dois parecem desempenhar um papel central no futuro do país: 1) o desenvolvimento do narcotráfico e 2) o desentendimento entre as estruturas do Estado, nomeadamente entre a Presidência da República e as chefias das forças armadas.
Alguns observadores internacionais precipitaram-se em qualificar a Guiné-Bissau como um narco-Estado. Esta apreciação está longe de corresponder à realidade na medida em que o país não reúne condições para se tornar num narco-Estado. O défice que apresenta em termos de organização, coordenação e eficiência das estruturas e instituições estatais está longe de o permitir. O presumido envolvimento de altas individualidades do Estado em negócios da droga, não pode ser confundido com o envolvimento das estruturas deste em tais negócios.
Apesar de não ter condições para ser um narco-Estado, não há dúvida de que o tráfico de drogas e a criminalização de certas esferas do Estado tem vindo a infligir grandes males ao país. A Guiné-Bissau é classificada pelo UNODC (Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime) como “a principal porta de entrada de cocaína na Africa Ocidental”. Este estado de coisas tem contribuído para desarticular o pouco de Estado que o país ainda possuía. A esse respeito são mais do que notórios os desentendimentos entre a polícia e as forças militares, levando por vezes a confrontos directos. Mas igualmente por causa dos males inerentes à saúde social deste mini-Estado e ao bem-estar das suas populações. Recentemente, o Movimento Nacional da Sociedade Civil guineense considerou o crime organizado do narcotráfico como algo “com graves repercussões sociais a nível do quotidiano dos cidadãos, nomeadamente a corrupção, a insegurança e a sanidade mental dos jovens”. Inicialmente qualificado como um simples lugar de trânsito, o país está a revelar índices crescentes e preocupantes de consumo de estupefacientes.
A desarticulação das estruturas do Estado foi um dos factores que conduziu à guerra civil de 1998. Hoje, ela está a dificultar a estabilidade política de que tanto precisa o país e torna incerto qualquer prognóstico sobre o seu futuro desenvolvimento. Esta desarticulação é sobretudo notória no relacionamento entre o Presidente da República, constitucionalmente reconhecido como o garante da estabilidade do país e as chefias militares, que por sua vez são vistas, pela Lei fundamental, como um dos pilares da segurança interna e da ordem pública do país (Art. 20). A interferência das chefias militares na governação do país atingiu o paroxismo de elas intervirem na indigitação dos membros do governo, valendo-se para isso do tácito consentimento do Chefe do Executivo, que por sua vez parece estar interessado, por razões que a razão da república desconhece, em manter uma aliança duvidosa com as mesmas. A existência de dois tipos de poder antagónicos, o poder constituído e o poder paralelo dos militares, tem sido a causa principal da instabilidade crónica no país. Nos últimos dois anos, este poder paralelo tem sido personificado pelo Chefe do estado-maior das Forças Armadas, que paradoxalmente se considera defensor das regras de funcionamento de um Estado democrático. As interferências dos militares em esferas do poder executivo normalmente reservado aos eleitos ou devidamente mandatados, mas também a sua presumida implicação no narcotráfico, estão a transformar-se numa ameaça à estabilidade político-militar do país. A isto se acrescenta a constituição de alianças no seio das próprias forças armadas e um tipo de relacionamento entre políticos e militares que longe de se basear em princípios republicanos, tendem a privilegiar laços étnicos.
A aproximação das eleições legislativas marcadas para 16 de Novembro do corrente ano, abre novas perspectivas ao desenvolvimento do país, nomeadamente o regresso da estabilidade política, a pacificação social e o crescimento da economia. Mas estas perspectivas carecem de garantias quanto à possibilidade da sua concretização. O espectro de uma bipolarização das candidaturas, opondo de um lado o PAIGC, personificado pelo ex-Primeiro Ministro Carlos Gomes Júnior, e do outro o PRS, personificado por Kumba Yala (apesar de ter declarado não ser candidato às eleições legislativas de 16 de Novembro) torna imaginável pelo menos três cenários pós eleitorais. O primeiro seria consubstanciado no facto de o PAIGC ganhar as próximas eleições por maioria absoluta, reunindo condições para governar sozinho . Uma tal vitória seria potenciada por uma certa reunificação do partido – excluindo embora uma parte dos apoiantes de Malam Bacai Sanha - e o regresso do actual Presidente da República às hostes do PAIGC. O país conheceria uma certa estabilidade política, facilitada entre outras razões pelo esbatimento do poder paralelo dos militares, que perdem espaço para continuar a interferir na governação, no âmbito do aprofundamento da reeestruturação das Forças Armadas e “recompensados” por promessas de boas aposentadorias. Faria ainda parte deste cenário uma certa recuperação económica do país facilitada, entre outros factores, pela recuperação da credibilidade externa de que goza o Primeiro-ministro e, em consequência disso, pela capacidade do país em mobilizar fundos externos. O segundo, em que o PRS, apoiado pelo actual Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e por subordinados deste pertencentes à mesma etnia que Kumba Yala, exerce o poder com base numa maioria parlamentar absoluta. O regresso do PRS ao poder teria sido facilitado por uma aliança tácita entre dois ex-candidatos às eleições presidenciais de 2005, nomeadamente Malam Bacai Sanhá, originário da etnia Beafada, e Kumba Yala, Presidente do PRS e recentemente convertido ao Islão. Um tal cenário faria regressar, talvez com mais força ainda, o perigo de uma governação baseada em afinidades étnicas, tal como aconteceu no último mandato presidencial de Kumba Yala (2000-2003), e não excluiria um processo de caça às bruxas. A intervenção dos militares nos assuntos políticos continuaria a ser uma realidade devido à renovação das alianças baseadas em confiança pessoal e afinidades étnicas. Um tal cenário seria propício à continuação da instabilidade política, ao mesmo tempo em que o país viria agravar a recessão económica, com os principais parceiros económicos a retirarem a sua ajuda por falta de uma boa performance do governo.
O terceiro cenário seria aquele em que nenhum dos partidos vence por maioria absoluta e em que, devido à proximidade do número de votos conquistado, as duas maiores formações políticas são forçadas a constituir um governo de unidade nacional. O país conheceria uma certa estabilidade política, mas estaria longe de um governo competente e à altura dos desafios que a situação socioeconómica e política impõe. Tendo em conta as experiências do passado, o Primeiro-ministro chamado a constituir um tal governo teria tendência em preocupar-se menos com a competência dos membros do governo do que com um equilíbrio na distribuição das pastas pelos membros das diferentes forças políticas. Isto resultaria na constituição de um governo de competência técnica muito limitada e consequentemente incapaz de encontrar a solução aos problemas do país. Os seus membros obedeceriam estritamente as orientações e estratégias partidárias, mais do que aos interesses do país e ao comando do primeiro-ministro eleito, como acabou de acontecer aliás com Pacto de Estabilidade Política Nacional assinado em 2007 entre o PAIGC, o PUSD e o PRS e que em princípio devia garantir estabilidade política ao país durante dez anos, que acaba de ser posto em causa pelo PAIGC. Estariam criadas as condições para o país continuar a “patinar” sem contudo resolver os problemas de fundo. O rumo certo de que tanto precisa a pátria de Amílcar Cabral, tarda a ser encontrado, e o espectro da crise que continua a pairar sobre a Guiné-Bissau demonstra mais uma vez que o destino do país continua a depender dos caprichos e da agenda das suas elites política e militar que, em detrimento das regras institucionais, cultivam as relações pessoais e de clientelismo.
Carlos Cardoso é Filósofo, Pesquisador e Diretor Executivo no Codesria - Dakar, Senegal.