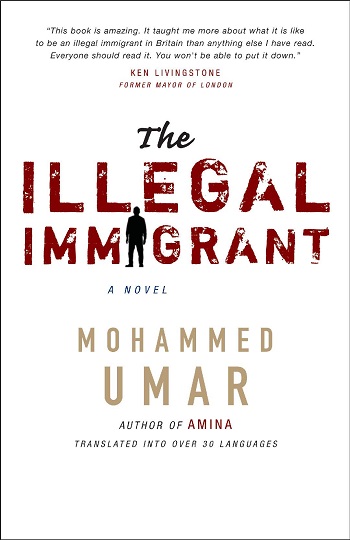A suposta liberdade dos juízes angolanos parece ser limitada quando se trata de processos políticos, o que compromete a celeridade no julgamento dos casos. Os exemplos são o caso dos 15 activistas políticos indiciados de preparar golpe de Estado e do jornalista e activista Rafael Marques.
Há uma equação simples que define a democracia. A democracia é igual a eleições livres mais juízes independentes e imparciais.
No topo dos juízes estão aqueles que compõem o Tribunal Supremo. Então será da sua atitude, em última instância, que dependerá a democracia em Angola.
Algumas decisões recentes têm levantado dúvidas sobre a confiança que se poderá ter nesses juízes como garantes da legalidade e do Estado de Direito.
Uma, naturalmente, diz respeito ao Habeas Corpus dos 15, cujo julgamento está a tentar ser esvaziado pelas autoridades com adiamentos e compassos de espera.
O Habeas Corpus é aquilo que se chama uma medida de ultima ratio. Entra em acção quando uma situação é manifestamente grave e merece ser resolvida em pouco tempo. Em Angola, o Habeas Corpus está garantido no artigo 68.º da Constituição. O que caracteriza o Habeas Corpus é a velocidade. Se uma pessoa está presa ilegalmente, tal situação deve ser remediada rapidamente.
Na legislação penal portuguesa, que não é famosa pela sua pressa, o Habeas Corpus tem que ser decidido em oito dias (artigo 31.º da CRP). Em Angola, a CRA não tem um prazo definido, mas a interpretação tem que ser dada em consonância com o artigo 72.º que garante o direito a um julgamento célere. Vem isto a propósito do tempo que o Tribunal Supremo demorou a decidir o Habeas Corpus dos 15, negando-o. Este foi pedido em Julho de 2015 e foi decidido dois meses depois em Setembro de 2015. Trata-se de um atraso inaceitável para uma providência deste tipo.
Outra atitude do Tribunal Supremo liga-se ao julgamento de Rafael Marques, este foi condenado em Maio de 2015 num processo que tem tanto de simples, como de iníquo. Não se compreende que o Tribunal Supremo em Janeiro de 2016, oito meses depois, não tenha produzido uma decisão.
De ambas as decisões sobressai a ideia que o Tribunal tem medo de processos políticos, e só os decide quando não pode adiar mais. Mas como vimos, se não confiamos nos juízes, não confiamos na democracia. Se os juízes têm medo ou estão subordinados ao poder político, não há democracia nem Estado de Direito.
Um caso final estranho diz respeito a Lídia Amões. Os advogados desta interpuseram um recurso para o Tribunal Supremo no início de Dezembro de 2015, antes da entrada em vigor da nova Lei das Medidas Cautelares.
A resolução deste Tribunal chegou depois da entrada em vigor dessa nova lei, a 20 de Dezembro de 2015, sob a forma de Despacho não fundamentado, a remeter o recurso para o Tribunal de Primeira Instância. Surgem aqui muitas perplexidades. As regras de organização judiciária em que se fixa a competência de um tribunal devem estar determinadas num momento em que uma acção ou recurso entra e não ser alteradas durante a sua tramitação. Tal, a acontecer, violará o princípio do juiz natural, que estranhamente, não está consagrado na CRA, mas deriva implicitamente da consagração do direito a um julgamento justo nos termos do artigo 72.º. Depois, há que considerar o princípio do tratamento mais favorável ao arguido, esse sim expressamente previsto no artigo 65.º, n.º 4 da CRA. Dá ideia que os juízes não consideram nada disto na sua decisão. Mas deviam ter considerado; a vida de um arguido tem sempre limitações impostas pelas medidas de coacção, mesmo quando não há prisão, e não pode ser decidida com despachos dilatórios (que se limitam a adiar) sem qualquer fundamentação.
É esta a atitude que parece estarem a tomar os Colendos Juízes Conselheiros: adiam e decidem sem grandes fundamentações. No fundo, recusam ser os leões que deveriam ser. Há medo na magistratura? Ou colaboracionismo?
Volta-se a repetir: sem juízes corajosos, desassombrados e equilibrados, não existe democracia que exista. O sistema judicial está a ser usado como palco de peças teatrais políticas de péssimo enredo, encenadas com base na incoerência dos dramaturgos do regime.
Rui Verde é doutor em Direito
- Log in to post comments
- 845 reads